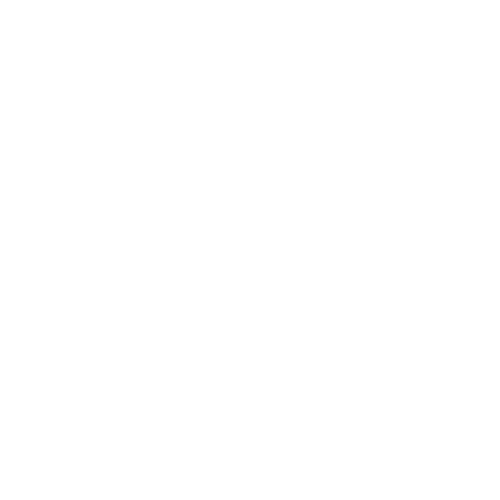SILVA, Jonas Araújo
GÉMES, Márton Támas
RESUMO:
A obra The Man Who Was Thursday de G. K Chesterton (1874-1936) tem sido uma narrativa de difícil penetração. Bons leitores, ao virarem a última página, não a compreenderam mais do que antes de virar a primeira, como demonstra Martin Gardner (2000). Diante disso, o presente trabalho visa contribuir para torná-la mais transparente, acrescentando-lhe uma tentativa de interpretação. Para tanto, realizou-se uma leitura simbólica da obra, tentando evitar a tendência de tratá-la como uma alegoria fechada, mas não deixando de buscar um significado figurativo para os elementos centrais do enredo. Foi usado, como base interpretativa para a leitura, comentários que o próprio Chesterton teceu a respeito, além do artigo The Man Who Was Thursday-Revisiting Chesterton’s masterpiece do supracitado Gardner. Ao término, foi possível concluir que a significação, embora já esboçada de modo genérico e abstrato pelo próprio autor, tornou-se mais clara nesta leitura. Os elementos simbólicos específicos da narrativa tiveram seu significado revelado com base nos comentários de Chesterton, o que ajudou a tornar a compreensão geral mais evidente.
Palavras-chave: leitura simbólica; significado; alegoria.
ABSTRACT:
The work The Man Who Was Thursday by G. K Chesterton (1874-1936) has been a difficult narrative to penetrate. Attentive readers, when turning the last page, understand it no more than before turning the first one, as demonstrated Martin Gardner (2000). Therefore, the present work aims to contribute to make it more transparent, adding an attempt to interpret it. To this end, a symbolic reading of the work was carried out, trying to avoid the tendency to treat it as a rigid allegory, but not failing to seek a figurative meaning for the central elements of the plot. As an interpretative basis for the reading, comments about it by Chesterton himself were used, in addition to the article The Man Who Was Thursday-Revisiting Chesterton’s masterpiece by Gardner. At the end, it was possible to conclude that the meaning, although already outlined in a generic and abstract way by the author himself, became much clearer in this reading. Specific symbolic elements of the narrative had their meaning revealed based on comments of Chesterton, which helped to make the overall understanding more evident.
Keywords: symbolic reading; meaning; allegory.
- INTRODUÇÃO
Gilbert Keith Chesterton foi um daqueles homens difíceis de limitar em termos de abrangência intelectual. Chesterton era, acima de qualquer coisa, um escritor, mas através desta sua atividade, fluía um variado arsenal de interesses intelectuais sobre os quais não economizava tinta para escrever. Compunham seu repertório de interesses desde a filosofia e educação até a política e Religião, sendo também jornalista e ficcionista.
Mundialmente conhecido por seus contos protagonizados por Father Brown, Chesterton escreveu também romances como The ball and the cross (1909), The Fly Inn (1914) entre muitos outros dentro dos quais se encontra o romance que é objeto de análise deste trabalho – The Man Who Was Thursday – a nightmare (1908). Esta obra é, desde sua primeira publicação, objeto de mistério, quanto à sua significação. Martin Gardner (2000) ilustra muito bem sua impenetrabilidade, citando duas reações famosas à obra
Many readers over the decades have found it difficult to understand who Sunday is. In the first chapter of F. Scott Fitzgerald’s This Side of Paradise, the protagonist is said to have liked The Man Who Was Thursday but without understanding it. An unsigned reviewer in the Aberdeen Free Press (March 12, 1908) ended his review by saying he was entertained by G. K.’s “brilliant prose” but put the book down “with no earthly idea” of what it was all about.
Diante dessa dificuldade de se chegar a um significado para a obra em questão, o presente trabalho, visa oferecer uma contribuição nas tentativas de interpretá-la. Com base em comentários que o próprio Chesterton fez a respeito, propõe-se, aqui, realizar uma leitura simbólica do enredo, num esforço de esclarecer tanto sua significação geral – que é esboçada de modo um tanto vago pelo próprio autor em sua Autobiografia – quanto o papel que cada elemento narrativo tem dentro desse quadro maior. Para tanto, é necessário jogar luz a um sentimento histórico que, defende-se, aqui, ser essencial para o entendimento da obra. Trata-se da sensação de inconformismo espiritual que se abateu na Inglaterra do século XIX e início do século XX, gerando como reação o chamado Highchurch. Além disso, realiza-se também, como pré-requisito terminológico para a análise da obra, uma breve definição e diferenciação do que seria uma leitura simbólica em detrimento de uma leitura alegórica no sentido pleno.
- “O INTELECTUAL PERTENCE AO SEU TEMPO”
A- D. Sertillanges (1944, p.34) diz, em sua obra A Vida Intelectual, que o “Intelectual pertence ao seu tempo”, de modo que os problemas da época em que vive são a matéria de sua obra. Seguindo essa ótica, pode-se dizer que um intelectual se torna mais inteligível à medida que se conheça os dramas que repercutiram na época em que viveu. Sendo Chesterton o intelectual a ser conhecido, este se tornará mais claro tanto mais se tenha uma ideia nítida de seu tempo, a saber o século XIX inglês, no qual nasceu, e início do século XX, no qual viveu as 3 primeiras décadas, observados aqui da perspectiva de uma de suas mais importantes transformações religiosas.
Andrew Sanders (1994, p.451), em sua obra The Short Oxford History of English Literature, diz do século XIX
[…] the nineteenth century remained a profoundly religious age, a period when the faith of Britain’s numerous, and often mutually antagonistic, Christian confessions still managed to touch all classes
mostrando que havia uma forte presença religiosa na Inglaterra desse século e, mais do que isso, salientando a diversidade e oposição entre essas manifestações de fé. E, se havia antagonismos, não é difícil inferir que houvesse intensos movimentos nesse quadro religioso. O chamado “movimento de Oxford” talvez tenha sido um dos mais importantes da história recente da religião na Inglaterra e, certamente, teve grande influência na vida e obra de Chesterton. Cabe, então, entender do que se trata.
Embora, como mostrado acima, houvesse diversidade religiosa na Inglaterra, a Igreja Anglicana detinha o status de religião oficial – uma religião do império. Entretanto, mesmo sendo vantajosa essa posição, ela veio ser uma forte causa de insatisfação com o anglicanismo nos anos 30 do dito século. Jeremy Morris (2016, p.2) mostra isso ao apontar o desconforto gerado pela atividade legislativa do Estado inglês sobre a religião anglicana. Esse sentimento era, na verdade, uma reação à desvitalização espiritual ocasionada pelo controle estatal sobre a religião anglicana, que teria como consequência o surgimento do “movimento de Oxford” – uma iniciativa de restauração da espiritualidade anglicana como esclarece o próprio Morris (2016, p.2)
[…] a movement of opinion rapidly gained ground in favour of reasserting the spiritual independence of the Church of England, of recovering and restating its historic spiritual resources (and especially its doctrine and liturgy), and of galvanizing its fading energies.
O controle do Império sobre a religião anglicana, de certo modo, tornava essa vertente francamente associada à classe superior inglesa como se pode imaginar. Isso, porém, gerou desconforto em alguns dos integrantes dessa classe, que buscavam uma experiência religiosa mais profunda. O domínio massivo do Estado sobre as questões religiosas, favorecendo as classes mais abastadas revelava uma religião materialista – secular. É aí que entra o “Movimento de Oxford” alavancado notoriamente por intelectuais pertencentes a esse grupo de inconformados.
O pontapé inicial se dá com o sermão de John Keble sobre a apostasia nacional. Mas embora tenha impulsionado a iniciativa, foi John Henry Newman (1801-1890) que se tornou o “membro mais carismático” (BELCHIOR, 2012, p.14). Newman começou sua atividade no grupo escrevendo seus Tracts for our time que, em princípio, atestavam a Igreja Anglicana como a “Via Média” – um ponto de equilíbrio entre os protestantes, segundo ele, rompedores da sucessão apostólica e o catolicismo que teria pervertido a tradição primitiva. Porém, à medida que se aprofunda em estudos que visavam ampliar seus argumentos para a causa do movimento, Newman se depara com uma forte ligação entre a religião anglicana e o catolicismo ao ponto de defender uma compatibilidade desta com aquela (BELCHIOR, 2012). Essa conclusão resultará, em 1845, em sua conversão ao catolicismo. No entanto, apesar de Newman ter ido ao extremo da conversão, muitos anglicanos se apegaram à compatibilidade apontada por ele como sendo uma espécie de atualização do anglicanismo, que trazia uma espiritualidade mais catolicizada. Tal tendência é chamada, entre outros nomes, de High Church – uma prática religiosa anglicana cuja manifestação apresenta algum alinhamento com o catolicismo. Esse anglicanismo “à católica” estabelece-se, de algum modo, na sociedade inglesa e passa a coabitar com o catolicismo crescente e com o anglicanismo menos ritualístico pré-existente como é atestado por Jeremy Morris (2016, p.2) “High Church principles gradually gained ground in the parishes and in the hierarch”. Esta tendência marcou o panorama espiritual da Inglaterra do século XIX, sobretudo a partir do fim da primeira metade, e avançou também pelo século XX como uma reação à secularização que se instalava naquela época. Esse movimento representa o sinal do inconformismo espiritual inglês, colocando novamente Deus no cenário. É nesse contexto que vem ao mundo Chesterton, no ano de 1874.
Sabendo, então, que a sociedade inglesa, impregnada dessa insatisfação espiritual – expressa pelo High Church – foi o mundo onde Chesterton cresceu e se desenvolveu intelectualmente, é possível ter uma ideia da influência que esse sentimento teve na identidade do autor e na sua obra. Dito isso, pode-se analisar, adiante, até que ponto essa sociedade é referência na obra The Man Who was Thursday como significação simbólica.
- METODOLOGIA
Os procedimentos de pesquisa realizados neste trabalho foram todos de cunho qualitativo-bibliográfico. Uma vez delineado o projeto de pesquisa, o trabalho de seleção da bibliografia desenvolveu-se em três etapas.
A primeira etapa diz respeito seleção de livros e artigos acadêmicos que, em alguma medida, abordassem o período que vai da segunda metade do século XIX à primeira década do século XX inglês, focando especialmente no fenômeno de revitalização espiritual, representado pelo chamado High Church.
A segunda etapa referiu-se à seleção de materiais que abordassem especificamente a natureza dos conceitos de símbolo e alegoria, priorizando os textos que focassem na diferenciação entre esses conceitos.
Por fim, buscou-se selecionar os textos que fizessem referência à significação da obra que é objeto de análise e algum texto que pusesse contribuir de algum modo para a estruturação do trabalho ainda que não fizesse referência direta a esses três temas.
Depois de selecionados os materiais de pesquisa, seguiu-se o trabalho de leitura e coleta de citações úteis à construção do trabalho. E, finalmente, uma vez preparado o material coletado, seguiu-se a realização da produção escrita do trabalho tal como se encontra.
- ALEGÓRICA E SÍMBOLICA: DOIS DIFERENTES TIPOS DE LEITURA
Os conceitos de alegoria e símbolo têm sido objeto de comparações opositivas já há mais de um século. Peter Crisp (2005, p.334), que argumenta em favor da ideia de que não há uma oposição radical entre os dois, diz que, há dois séculos, esses termos têm sido colocados como opostos e até comparados da perspectiva valorativa, apontando um como superior ao outro. No entanto, não são sem motivos estas constantes iniciativas de diferenciação entre esses conceitos; há, sim, um elo em comum que se não os faz iguais, os torna, às vezes, semelhantes ao ponto de serem confundidos. Trata-se do fato de ambos, embora sendo formas retóricas de linguagem bem específicas, caracterizarem-se como discursos figurados de cunho metafórico. Isto justifica, portanto, a necessidade de distinção para um entendimento minimamente profundo do que seriam ambos alegoria e símbolo. Dito isso, nas linhas seguintes, pretende-se expor as características dos dois conceitos, de modo que se apresentem nítidos o suficiente para saber-se que são duas noções diferentes e reconhecíveis em suas particularidades e que cada um deles exige uma espécie de leitura diferente, enquanto obra literária. Feito isso, será realizada uma leitura da obra The Man Who Was Thursday – a Nightmare, tratando-a como um sistema de símbolos e não como alegoria nos termos em que é aqui conceituada.
O crítico literário Tzevan Todorov (1939 – 2017), em Teorias do Símbolo (1977), ao analisar a obra Objetos das Artes Figurativas de Goethe, aponta aquilo que será tomado aqui como elemento central na diferenciação entre alegoria e símbolo. Segundo ele
A primeira diferença vem, então, do fato de, na alegoria, a face significante ser atravessada instantaneamente, com vistas ao conhecimento do que é significado; ao passo que, no símbolo, ela conserva seu valor próprio, sua opacidade. (TODOROV, 1977, p. 319).
Isto coloca a alegoria em uma condição de intransigência com relação ao leitor, posto que, em termos literários, a narrativa só será lida corretamente se o leitor, de imediato, superá-la e chegar ao significado. Se o leitor não faz isso, incorre na “desleitura”, isto é, uma leitura que não cumpre o procedimento que lhe é exigido e, portanto, não atinge a finalidade. Assim, para evocar um exemplo conhecido, pode-se citar a Parábola do Filho Pródigo (Lc 15, 11-32), que se enquadra perfeitamente nesse conceito. Ao ler essa parábola e não ter a percepção de que o filho pródigo é a humanidade e seu pai é o Deus cristão, o leitor realiza uma “desleitura”. De certa forma, na alegoria, o leitor sofre uma espécie de imposição com relação ao modo como deve ler a obra. J. R. R Tolkien (1892-1973) aponta isso ao reclamar da alegoria no prefácio à segunda edição dos livros que compõe a narrativa de O Senhor dos Anéis (1954,1955). A alegoria, segundo Tolkien (1965, p.34) reside “na dominação proposital do autor”, ou dito de outro modo, na submissão do leitor à prévia determinação de significado feita pelo autor, de modo que este priva aquele da liberdade de interpretação subjetiva. Todavia, o mesmo não acontece com relação ao símbolo cuja “face significante” mantém sua importância em si mesma, “sua opacidade”, isto é, não está ali somente para fazer referência a algo que lhe é superior significativamente. Portanto, pode-se dizer que a narrativa simbólica pode ser lida, tendo em si própria um valor significativo, não exigindo do leitor uma operação intelectual necessária com vistas a chegar a um significado predeterminado pelo próprio autor da obra. E mais ainda, pode, inclusive, conservar um mistério em torno de si. Porém, não é correto supor que o símbolo não venha a significar de modo algum, como mostrará, ainda, Todorov.
Continuando a analisar Goethe, o crítico búlgaro aprofunda a diferença, apontando que
A alegoria significa diretamente, isto é, a sua face sensível não tem nenhuma outra razão de ser, além de transmitir um sentido. O símbolo só significa indiretamente, de maneira secundária: está lá, em primeiro lugar, por si mesmo, e é só em um segundo momento que descobrimos que ele também significa (TODOROV, 1977, p. 319).
Aqui, o caráter mecânico da obra alegórica fica ainda mais evidente, visto que Todorov mostra que, ao contrário do símbolo, a dimensão aparente na alegoria serve unicamente para evocar um significado que lhe é externo, não tendo outro propósito. Disso pode-se concluir que toda a estrutura narrativa (face sensível) alegórica tem, por sua vez, a mera função de apontar para um outro plano. Entretanto, voltando ao símbolo, não é correto, como já dito, dizer que este não signifique de modo algum. Ainda que para o símbolo não haja uma necessidade de significado, Todorov deduz que esse pode também significar, embora de modo despropositado. Sua significação, ao contrário da alegoria, ocorre como uma espécie de efeito colateral e só vem a ser percebido depois do primeiro contato – no caso literário, depois da leitura. Recorre-se, aqui, como exemplo, à obra O Senhor dos Anéis (1954,1955) do supracitado Tolkien, na qual o “Um Anel” pode ser considerado, em si mesmo, como instrumento de dominação do mau dentro da narrativa, mas também pode vir a significar o poder como elemento corruptor dos homens numa interpretação livre, não sendo este último um significado indispensável.
Diante disso, pode-se, agora, sintetizar, com alguma clareza, aquilo que é essencial em cada conceito. A começar pela alegoria, pode-se concluir que, enquanto texto literário, ela se manifesta de forma determinista. Sua existência tem um propósito fixo – representar algo específico e sua estrutura narrativa não tem outra função que não apontar para um sentido determinado. Os elementos narrativos todos têm de ser transpassados a fim de se chegar ao significado. Sendo assim, a alegoria exige do leitor que ele intelija aquele sentido específico, e não outro. Disso, conclui-se que há um modus operandi de leitura para textos alegóricos. O leitor deve ler assim e, jamais, de outro modo. O símbolo, em contrapartida, atrai a atenção para si mesmo. A “face sensível” conserva seu valor. O leitor da obra simbólica não está subordinado à busca de um sentido específico por trás da estrutura narrativa, visto que esta não está ali para significar meramente. Aquele que a lê pode, inclusive, somente apreciar a narrativa como algo independente de um significado externo. Este, no entanto, pode vir a existir, embora como acidente – uma existência não essencial que não se impõem ao leitor como no caso alegórico. Em resumo, da perspectiva de leitura, conclui-se que a alegoria exige uma atividade intelectual específica do leitor e impõe isso. O símbolo permite, por sua vez, que o leitor permaneça livre, enquanto lê, mas não deixando de, nas entrelinhas, sugerir possibilidade(s) de significado(s) para ele buscar ou encontrar involuntariamente.
4 THE MAN WHO WAS THURSDAY – A NIGHTMARE: UMA LEITURA ALEGÓRICA OU SIMBÓLICA?
Chesterton teve sua obra The Man who was Thursday – a Nightmare publicada pela primeira vez em 1908. O enredo da obra desenvolve-se em torno de perseguições caóticas. O poeta Gabriel Syme – “poet of order” (p.11), após ser convidado pelo poeta Lucian Gregory – “anarchic poet” (p.11) – a visitar uma reunião anarquista com intuito de provar que Gregory é um autêntico defensor dessa linha de pensamento, encontra-se infiltrado no conselho central dos anarquistas formado por sete membros cujos codinomes eram os dias da semana – Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday e Saturday (p.26). Syme, que era, na verdade, membro de uma ordem de policiais filósofos que combatiam o anarquismo, assumiu o lugar de Thursday (p.38) dentro do conselho anarquista que era chefiado por Sunday. No progresso da narrativa, além de Syme, os demais membros vão, um por um, revelando serem também policiais disfarçados com exceção de Sunday – a quem eles ora perseguem, ora são por ele perseguidos. Essa dicotomia entre Anarquismo e ordem é que dá o tom predominante do enredo.
O primeiro contato com a obra pode sugerir, de imediato, uma leitura alegórica, devido à caracterização sugestiva dos personagens. É quase inevitável não transpassar o elemento narrativo e ver, logo no primeiro capítulo, o anarchic poet e o poet of order como imagens do caos e da ordem cósmicos. O mesmo acontece quando se apresentam os dois grupos – o conselho anarquista e a ordem de policiais filósofos. No entanto, embora pareça, de início, uma alegoria óbvia, que exige ser lida de um certo modo, se irá perceber que os elementos, antes aparentemente óbvios na sua significação, passam a ser ambíguos, visto que, não são aquilo que pareciam ser. Os cinco membros do conselho anarquista que para Syme e para o leitor, eram certamente fiéis louváveis do núcleo mais seleto do movimento, revelam ser, na verdade, membros da ordem de policiais filósofos (p.70, 82, 102, 121, 150). Pode-se, com isso, argumentar que Chesterton talvez não estivesse definindo o modo como deve ser lida a obra, mas alertando que não se deveria ser vista como uma leitura alegórica óbvia e fechada. Se de fato for um alerta, Martin Gardner (2000) o levou a sério. Num artigo intitulado The Man Who Was Thursday: Revisiting Chesterton’s masterpiece, o escritor americano lê a anarquia, não como o caos, mas como o livre-arbítrio – “free will is symbolized by anarchism”. Sendo assim, apostando também na hipótese do alerta, evitar-se-á, aqui, seguir uma leitura alegórica, devido à presença do caráter ambíguo dos elementos narrativos, que caracterizam um comportamento contrário ao texto alegórico. Opta-se, portanto, pela leitura simbólica nos moldes acima definidos.
O texto simbólico pode, como visto no capítulo anterior, ser lido, considerado apenas da perspectiva da narrativa – superfície significante. Isto não exige um esforço, além do necessário à concepção imaginativa do que acontece no enredo e o entendimento da lógica interna, isto é, imaginar as personagens, o espaço, as ações e captar as relações de causa e efeito. Portanto, a atenção será direcionada para a possibilidade de significado simbólico. O próprio Chesterton, na sua autobiografia, nos aponta o caminho. Observa ele, referindo-se à obra
[…] the whole story is a nightmare of things, not as they are, but as they seemed to the young half-pessimist of the ‘90s; and the ogre who appears brutal but is also cryptically benevolent is not so much God, in the sense of religion or irreligion, but rather Nature as it appears to the pantheist, whose pantheism is struggling out of pessimism. So far as the story had any sense in it, it was meant to begin with the picture of the world at its worst and to work towards the suggestion that the picture was not so black as it was already painted. (CHESTERTON, 1936, p.102)
Com isso, o autor revela três elementos bases, que ajudam a elucidar a significação simbólica da obra. O primeiro é a influência dos anos 90 do século XIX na percepção subjetiva de Chesterton; depois, a revelação da significação de Sunday como natureza e, por fim, uma espécie de resumo da significação da obra que a coloca como um quadro da sensação de pesadelo sentida na época (anos 90) para o qual apresenta-se uma solução no final da estória. Com base nessas indicações, pode-se dizer que o autor revela, ainda que vagamente, o quadro simbólico geral da obra, cabendo aqui a tarefa de encontrar a referência simbólica dos elementos específicos que preenchem esse quadro geral, tornando-o mais transparente.
Gabriel Syme, o poeta da ordem e membro da polícia antianarquista, é o protagonista da obra como revela o título – The Man Who Was Thursday. É sob a perspectiva dele, portanto, que o drama se desenrola. O poeta é caracterizado como um homem sincero com relação aos seus ideais. No capítulo The Tale of a Detective aponta-se sua autenticidade, quando o narrador diz dele “Nor was his hatred of anarchy hypocritical” (p.41) e, ainda, “His respectability was spontaneous[…]” (p.41). Seus ideais são caracterizados, já desde a infância, como uma revolta contra as ideias modernas representados pela sua família – “[…] a family of cranks, in which all the oldest people had all the newest notions” (p.41). Cresceu sobre a influência de eixos opostos; enquanto seu pai presava pelo individualismo e pela arte – “[…] art and self-realisation” (p.41), a mãe personificava a ideia da simplicidade e higiene – “[…]simplicity and hygiene” (p.41). Porém, não existia moderação nesses estilos de vida, eram ambos igualmente intensos em suas convicções como descreve o narrador
The more his mother preached a more than Puritan abstinence the more did his father expand into a more than pagan latitude; and by the time the former had come to enforcing vegetarianism, the latter had pretty well reached the point of defending cannibalism. (p.41)
Com influências mais secundárias, não era diferente; o extremismo também acometia seus tios – “One of his uncles always walked about without a hat, and another had made an unsuccessful attempt to walk about with a hat and nothing else” (p.41), levando à conclusão de que Syme cresceu no meio de fanáticos. A revolta de Syme é, portanto, contra esses fanatismos, buscando o equilíbrio “Gabriel had to revolt into something, so he revolted into the only thing left— sanity” (p.41). Mas, ainda que seja autêntico, o protagonista acaba herdando o mesmo extremismo da família – “[…] there was just enough in him of the blood of these fanatics to make even his protest for common sense a little too fierce to be sensible” (p.41). Esse extremismo se constitui de modo mais patente em seu ódio pelo Anarquismo como descreve o narrador
He did not regard anarchists, as most of us do, as a handful of morbid men, combining ignorance with intellectualism. He regarded them as a huge and pitiless peril, like a Chinese invasion (p.42).
Esse anarquismo é ampliação simbólica da significação da família. Esta transborda seu caráter de representação das ideias modernas para a anarquia, que é agora o foco principal de Syme.
Essa personagem cumpre, dentro de uma aplicação simbólica, o papel do “homem inconformado” com o status quo do seu tempo. Porém, embora inicialmente, Syme o veja como inconformismo político, trata-se do inconformismo espiritual como se verá. Este o leva a se revoltar com as ideias extremas que lhes são oferecidas, mas, na sua revolta acaba tornando-se também ele um extremista. Para Syme, não basta repudiar o anarquismo evitando praticá-lo, é preciso lutar de fato contra ele. Syme tornou-se ávido do combate ao ponto de se revoltar até contra a calma dos policiais […] forgive you even your cruelty if it were not for your calm” (p.43). Desenha-se, a partir daqui o drama de Syme, ou do homem inglês do final do século XIX, o qual, rodeado de ideias modernas fanáticas, busca uma solução a qualquer custo e, ao apostar em soluções insuficientes, acaba por vivenciar um pesadelo – “nightmare”.
Como já dito no início do capítulo, Syme, na ânsia selvagem de solução, encontra um meio de combater o inimigo anarquista, integrando-se a uma organização de policiais filósofos que investigam a presença anarquista através do pensamento e das manifestações artísticas. Assim, o policial que convidou Syme definiu a função da quela ordem
The ordinary detective discovers from a ledger or a diary that a crime has been committed. We discover from a book of sonnets that a crime will be committed. We have to trace the origin of those dreadful thoughts that drive men on at last to intellectual fanaticism and intellectual crime . (p.44,45)
Esta ordem simboliza a esperança de uma resposta para o inconformismo supracitado do homem inglês daquela época. Uma resistência organizada formada por homens pensantes. Em última análise, a ordem representa o “esforço humano” como resposta para uma insatisfação espiritual.
Depois disso, já no trabalho de investigação, Syme acaba infiltrado no Conselho Central Anarquista, como membro oficial eleito democraticamente – “The question is that Comrade Syme be elected to the post of Thursday on the General Council” (p.38). Mas o que vem a representar, de modo mais profundo, o anarquismo na obra? Embora, se tenha já dito que se refere às ideias fanáticas modernas, pode-se expandir um pouco mais. A interferência estatal na religião, o materialismo industrial, socialismo, evolucionismo e o próprio anarquismo (no sentido não simbólico) foram causas do inconformismo espiritual inglês e juntos – numa visão cristã como a de Chesteron – representavam um quadro caótico. Esse quadro é simbolizado pela anarquia na obra, contra qual Syme se rebela.
A tentativa de combater as “ideias modernas” através do “esforço humano” leva o protagonista a uma espécie de jogo de aparências. Ele descobre que aqueles a quem considera parte do núcleo do mal que combate são também homens como ele, buscando combater o mesmo mal. Um a um, com exceção de Sunday –, os membros do conselho central anarquista revelam ser também homens inconformados tentando combater o mal de seu tempo através do mesmo “esforço humano” simbolizado pela ordem de policiais filósofos – (p.70, 82, 102, 121, 150). A essa altura, eles concluíram, então, que Sunday os havia feito de bobos, colocando-os, propositalmente, a encenar um teatro no qual eles representavam, ao mesmo tempo, heróis e vilões. Eis como descreve o choque da descoberta Radcliffe – o Wednesday
The whole movement was controlled by him; half the world was ready to rise for him. But there were just five people, perhaps, who would have resisted him… and the old devil put them on the Supreme Council, to waste their time in watching each other. Idiots that we are, he planned the whole of our idiocies! (p.123)
Essa descoberta faz crescer, ainda mais, neles, a visão de Sunday, como o representante máximo do mal de seu tempo. Mas agora encontram-se na posição de perseguidos, não mais de perseguidores – uma massa do pessoas passou a segui-los “[…] saw that the dark cloud of men had detached itself from the station and was moving with a mysterious discipline across the plain” (p.126) e, nesse ponto, Syme começou a colocar em questão a veracidade de tudo o que lhe vinha acontecendo.
Was he wearing a mask? Was anyone wearing a mask? Was anyone anything? This wood of witchery, in which men’s faces turned black and white by turns, in which their figures first swelled into sunlight and then faded into formless night, this mere chaos of chiaroscuro (after the clear daylight outside), seemed to Syme a perfect symbol of the world in which he had been moving for three days, this world where men took off their beards and their spectacles and their noses, and turned into other people. (p.126,127)
A Syme ou ao homem moderno do fim do século XIX, como foi interpretado, toda aquela série de acontecimentos passam a soar completamente inverossímeis. Aqui, toma forma clara o caráter simbólico desta obra como é interpretada neste trabalho à luz do comentário do próprio Chesterton. A aventura de Syme é absurda demais para ser real e angustiante demais para ser só um sonho comum. Por isso Chesterton a chama “nightmare” – pesadelo. O pesadelo, na obra, é o símbolo do que acontece quando se tenta resolver o mal do mundo através de um esforço meramente humano, usando recursos materiais. Isso leva o homem inconformado à horrível conclusão de que seu esforço foi vazio. O mal, parece ter vencido, só restando desespero. A esse estado Chesterton se refere quando diz que a obra é “the picture of the world at its worst”. Isso se reafirma no capítulo The Earth in Anarchy quando toda a massa que, junta com o Secretário (Monday), perseguia os policiais filósofos se revelam não anarquistas, mas pessoas de bem tentando combater os próprios anarquistas (p.90), demonstrando que tudo é aparência nessa jornada. Resta agora Sunday.
No comentário de Chesterton, como dito, Sunday é a Natureza panteísta, “Nature as it appears to the pantheist[…]”. Martin Gardner (2000) explica isso melhor
Sunday is simply Nature, or the Universe when seen as distinct from the Creator. The God of Judaism, Christianity, and Islam has two aspects that theologians like to call transcendence and immanence. […] Sunday is God’s immanence.
Isto é, Sunday simboliza, a imanência de Deus, o universo no seu caráter inalterável – necessário e indiferente à liberdade humana. Ele é bom como um dia de sol, mas terrível como uma tempestade ou um furacão. É estritamente necessário e não está dentro das possibilidades humanas evitá-lo. Ora Sunday, no capítulo The Pursuit of The President revela aos policiais ser, ao mesmo tempo, o recrutador da ordem de policiais filósofos e o chefe do concelho central anarquista “I am the man in the dark room, who made you all policemen.” (p.155), ou seja, era tanto o causador do medo, quanto da esperança, assim como um terremoto pode significar terror e o nascer do sol causar alegria. Desse modo, em todo o enredo, Syme e os outros tentaram combater o mal inerente à natureza, contra a qual nada podem, pois é inevitável. No entanto, a causa da sua luta não era, como pensaram ser, a resolução do mal de origem humana e material, pois esse é só um aspecto inevitável da natureza como visto. Era, isso sim, um combate espiritual embora eles, porém, o combatessem com esforço meramente humano. Tratava-se, no fundo, de uma batalha de anjos como revela o nome dos dois poetas que debatiam no primeiro capítulo – Lucian Gregory e Gabriel Syme, uma clara alusão ao Arcanjo Gabriel e Lúcifer. O simbolismo torna-se transparente, quando diante de Sunday e dos seis policiais ao seu lado, no último capítulo, surge Gregory, sobre o qual Bull (Saturday) disse “Now there was a day, […] when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them” (p.181) e Gregory confirma dizendo “You are right, […]. I am a destroyer. I would destroy the world if I could.” (p.181). Resta agora saber o que Chesterton quis dizer com “work towards the suggestion that the picture was not so black as it was already painted”.
Ainda no último capítulo da obra, quando os seis filósofos sentados em tronos ao lado de Sunday, diante do qual estava também Gregory, tentam entender tudo o que aconteceu, Gregory os acusa de não sofrerem, ao que Syme responde
“I see everything,” he cried, “everything that there is. Why does each thing on the earth war against each other thing? Why does each small thing in the world have to fight against the world itself? Why does a fly have to fight the whole universe? Why does a dandelion have to fight the whole universe? For the same reason that I had to be alone in the dreadful Council of the Days. So that each thing that obeys law may have the glory and isolation of the anarchist. So that each man fighting for order may be as brave and good a man as the dynamiter. So that the real lie of Satan may be flung back in the face of this blasphemer, so that by tears and torture we may earn the right to say to this man, ‘You lie!’ No agonies can be too great to buy the right to say to this accuser, ‘We also have suffered” (p.182,183)
O protagonista entendeu, enfim, que todo o mal que combateu junto com seus colegas era, não um Mal metafísico, era a natureza mesmo das coisas. Quando esta torna-se o alvo do homem, este vive um pesadelo, pois é uma luta perdida e sem sentido. Esta só ganha sentido quando entra a dimensão espiritual, apontada desde o início pela escolha do nome dos dois poetas e confirmada ao final por Sunday, quando responde à questão de Gregory (Satan) […] “have you ever suffered?” (p.10), dizendo “Can ye drink of the cup that I drink of?” (p.183). Sunday faz referência direta ao Evangelho de Mateus (20,22), repetindo o próprio Jesus e transcendendo a sua significação inicial. Sunday é, agora, o próprio Deus cristão que traz sentido a tudo, fazendo Syme – o homem moderno – acordar do nightmare e, perceber que quadro real do mundo não é tão mal quanto aparentara – “work towards the suggestion that the picture was not so black as it was already painted”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dada a análise da obra e a proposta de interpretação simbólica acima, pode-se argumentar que, embora trate-se de uma obra de ficção elaborada, propositalmente, por Chesterton para ser ambígua e “escorregadia”, é possível chegar a uma interpretação razoável dessa obra com base nos comentários de Chesterton a respeito. Mais do que isso, foi possível apresentar uma leitura simbólica do enredo, sem, todavia, ignorá-lo enquanto criação de um autor cujas intenções, em alguma medida, lhe atribuem sentido. Não se pense, porém, que esse sentido seja fixo e inalterável como na leitura alegórica definida acima. A obra é flexível: a anarquia que, nesse trabalho, simboliza todo o materialismo que acometia a Inglaterra de Chesterton, tornando-a cada vez mais árida espiritualmente, para Gardner (2000), ao contrário, simboliza o livre-arbítrio, como visto. Além do mais a obra poderia ser apreciada tão somente da perspectiva narrativa, valendo por si mesma, mesmo não sendo o objetivo pretendido aqui.
Dito isso, considera-se que este trabalho conseguiu oferecer uma contribuição modesta, mas razoável aos esforços de interpretação da obra de Chesterton, o qual, embora tivesse sugerido o quadro geral de sua significação, o fizera de modo um tanto breve e abstrato. O empreendimento, aqui, realizado na tentativa de atribuir significado simbólico à narrativa conseguiu tanto interpretar o enredo como um todo, agregando-lhe um significado geral, quanto preencher de sentido os elementos específicos centrais da narrativa.
REFERÊNCIAS
A Bíblia. São Paulo: Paulus, 2014.
BELCHIOR, Marco André Paleta. John Henry Newman e a questão da infalibilidade papal: a leitura do dogma e a compreensão do papel do Romano Pontífice. Lisboa: Universidade Católica Portuguesa, 2012. Tese de Doutorado.
CHESTERTON, Gilbert Keith. Autobiography By G.K. Chesterton. London: Hutchinson & Co, 1937.
CHESTERTON, Gilbert Keith. The Man Who Was Thursday: a Nightmare. Penguin Books. London, 1986.
CHESTERTON, Gilbert Keith. O Homem Que Era Quinta-Feira. Alêtheia Editores. Lisboa, 2013.
CRISP, Peter. Allegory and symbol – a fundamental opposition?. Language and Literature, v. 14, n. 4, p. 323-338, 2005.
GARDNER, Martin. The Man Who Was Thursday: Revisiting Chesterton’s Masterpiece. Books & Culture, 2000.
GARDNER, Martin. O Homem que era Quinta-feira: Um retorno à obra prima de Chesterton. Sociedade Chesterton Brasil. Disponível em: https://sociedadechestertonbrasil.org/o-homem-que-era-quinta-feira-um-retorno-a-obra-prima-de-chesterton/. Acesso em: 22 de nov. de 2022
MORRIS, Jeremy. The High Church Revival in the Church of England: arguments and identities. Brill, 2016.
SANDERS, Andrew. The short Oxford history of English literature. Published in the United States by Oxford University Press Inc. New York, 1994.
SERTILLANGES, Antonin-Dalmace. A vida intelectual: seu espírito, suas condições, seus métodos. São Paulo: Kirion, 2019.
TODOROV, Tzvetan. Teorias do símbolo. Trad. Roberto L. Ferreira. São Paulo: Unesp, 2014.
TOLKIEN, J.R.R. A Sociedade do Anel: O Senhor dos Anéis parte I. Rio de Janeiro: Harper Collins, 2020.